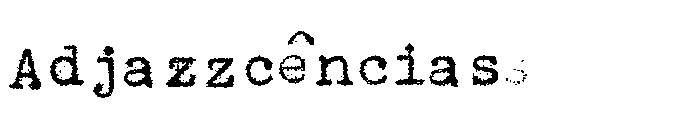Quando lancei meu blogue, em agosto de 2006, senti-me como um adolescente que recebe a chave de casa. Ter autonomia para fazer meus textos chegarem a um certo público, ainda que diminuto, sem depender de terceiros, era como um passe de mágica. Algo assim eu não conhecera em décadas de trabalho como jornalista e como escritor. Neste ponto, a internet representava a libertação.
Quando lancei meu blogue, em agosto de 2006, senti-me como um adolescente que recebe a chave de casa. Ter autonomia para fazer meus textos chegarem a um certo público, ainda que diminuto, sem depender de terceiros, era como um passe de mágica. Algo assim eu não conhecera em décadas de trabalho como jornalista e como escritor. Neste ponto, a internet representava a libertação.Esta experiência nova, no entanto, implicava um limite que eu próprio me impus: usar com parcimônia um espaço ilimitado. Não deixar-me embriagar pela vastidão. Meu desafio era produzir textos concisos que não fossem superficiais. Trocando em miúdos, não ir muito além dos 2 mil caracteres que correspondem a uma página de livro ou a uma crônica de jornal. Seria um exercício para aprimorar o poder de síntese, como o de um solitário motorista que, numa tarde de inverno, treina baliza na areia da maior praia do mundo.
Sim, a internet tem quase o tamanho do Cassino. Revivi o hotel do meu pai na forma de um blogue. Captei visitantes fiéis e outros eventuais. Alguns deixaram marcas de qualidade superior à dos meus textos. Sou grato a quem doou um pouco de si aos leitores de Adjazzcências.
Ao longo desses três anos e quatro meses, não faltou quem discordasse de mim ou concordasse comigo sobre isso ou aquilo. É confortante receber apoio, claro. Mas o que de fato justifica meu trabalho é algo diferente da aprovação. É ter lido em alguns comentários algo assim: "Eu nunca havia pensado nisso sob esse ângulo".
Nunca desejei atuar como se fosse um rebocador, ou seja, arrastar navios por um caminho determinado. Isto é coisa para os políticos. Desejo, se tanto, ser um farol, emitir um sinal. O melhor que eu puder. Os outros que façam o uso que quiserem desse sinal. E naveguem por onde acharem que devem navegar.
Esta centésima crônica, hoje, fecha um ciclo. Não sei se vou reformular ou suprimir o blogue. Se continuar, terá periodicidade maior, mensal ou bimestral, quem sabe esporádica. Meu tempo torna-se escasso. Como pretendo dedicar-me a um projeto de livro que está engavetado há anos, isto só poderá ser feito em detrimento do Adjazzcências. Mas não é uma despedida cabal. Portanto, arrivederci. Bom fim de ano a todos.