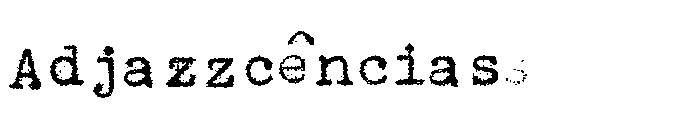Se Beethoven houvesse vivido tão pouco quanto Mozart, 35 anos, seu nome teria sido soterrado entre os de outros 5 mil pianistas que atuavam em Viena no final do século XVIII. Ele foi um gênio tardio, late bloomer, flor de outono.
O talento sempre se impõe? Pergunto-me isso ao ver um bom músico, que poderia estar no palco, tocando para os ouvidos moucos dos frequentadores de restaurantes. O público não está nem aí. Até quando aquele músico terá de ficar na obscuridade, menos prestigiado que o garçom? Torço por seu talento. Mas não há garantias.
Segundo a Bíblia, Jesus Cristo disse aos homens: muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. É a lei da vida; ela vale para os espermatozóides, para os vestibulandos e, claro, também para os artistas. Mas ouvir a verdade é assustador. O mesmo Jesus providencia o consolo: os últimos serão os primeiros. Isto seria, em tese, uma compensação para a injustiça. Mas em outra dimensão. Ou no fim dos tempos.
Se nos fosse dado ver o trailer da redenção, teríamos um Beethoven curado da surdez, mas trabalhando de garçom. No pódio, em vez dele, um músico genial que outrora passara despercebido em Viena, o qual nunca vimos mais gordo, rege a sinfonia celestial.
Tudo resolvido? Não, nem tudo. Mesmo nessa dimensão post mortem, que redime os homens, vemos os artistas persistir no erro básico pelo qual já pagam caro neste mundo: confundem a sua vocação com o seu destino. Acreditar na vitória do talento não é menos delirante do que acreditar no Papai Noel. Só que, sem essa crença, não se faz a grande arte.
domingo, 20 de novembro de 2011
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
A FRASE NA PRAÇA
Na Praça Dom José Gaspar, sob a estátua de Chopin, ouço um morador de rua dizer a outro que também dorme ali:
> O Brasil é o país mais corrupto do mundo.
Surpreendeu-me que essa tese, plausível, interesse a quem não tem nada mais nada a perder na vida. Mas matutei: faz sentido. O sem-teto é o produto de ponta da nossa corrupção amazônica, imemorial.
O primeiro bispo do Brasil, Pedro Fernandes Sardinha, locupletou-se a perdoar pecados até que foi devorado pelos imaculados caetés. Os cobradores dos bondes paulistas cunharam o bordão Dlim-dlim, dois pra Light e um pra mim. Os arquitetos, menos explícitos, disfarçam sob o eufemismo reserva técnica a quantia que recebem por fora para privilegiar fornecedores.
Só no Manual do Escoteiro consta que esse ou aquele presidente vai coibir a corrupção. Todos, no Brasil, prometeram isso. Até os ditadores. Nicas. Na construção de Brasília, os entregadores chegavam às obras com caminhões carregados de vergalhões que não descarregavam; davam baixa na nota fiscal e voltavam ao fim da fila, com a mesma mercadoria, para reapresentá-la ao fiscal. Pagamos quatro ou cinco vezes pelas lajes dos prédios públicos sobre as quais se assentam os tacos, os tapetes e os sapatos (com anchas meias) dos políticos. Devem ser sólidas, portanto.
Se quantificada, a corrupção alçaria o Brasil aos píncaros do Guiness. Esse penumbroso recorde mundial, mais do que nunca, estará ao nosso alcance na copa de 2014. Nesse mesmo ano, vale lembrar, se cumprirá o centenário da indignada frase de Ruy Barbosa sobre a vergonha de ser honesto. Sim, ele já dizia isso em 1914.
Se fosse viável resgatar o montante da corrupção desde os tempos do bispo Sardinha, o país estaria em condições de garantir um apartamento de dois quartos, com chuveiro quente, a cada um de seus cidadãos. Do Oiapoque ao Chuí. Na Praça Dom José Gaspar, não haveria ninguém de noite, a não ser Chopin. Agora entendo o que ouvi, por acaso, ao passar por lá de manhã.
> O Brasil é o país mais corrupto do mundo.
Surpreendeu-me que essa tese, plausível, interesse a quem não tem nada mais nada a perder na vida. Mas matutei: faz sentido. O sem-teto é o produto de ponta da nossa corrupção amazônica, imemorial.
O primeiro bispo do Brasil, Pedro Fernandes Sardinha, locupletou-se a perdoar pecados até que foi devorado pelos imaculados caetés. Os cobradores dos bondes paulistas cunharam o bordão Dlim-dlim, dois pra Light e um pra mim. Os arquitetos, menos explícitos, disfarçam sob o eufemismo reserva técnica a quantia que recebem por fora para privilegiar fornecedores.
Só no Manual do Escoteiro consta que esse ou aquele presidente vai coibir a corrupção. Todos, no Brasil, prometeram isso. Até os ditadores. Nicas. Na construção de Brasília, os entregadores chegavam às obras com caminhões carregados de vergalhões que não descarregavam; davam baixa na nota fiscal e voltavam ao fim da fila, com a mesma mercadoria, para reapresentá-la ao fiscal. Pagamos quatro ou cinco vezes pelas lajes dos prédios públicos sobre as quais se assentam os tacos, os tapetes e os sapatos (com anchas meias) dos políticos. Devem ser sólidas, portanto.
Se quantificada, a corrupção alçaria o Brasil aos píncaros do Guiness. Esse penumbroso recorde mundial, mais do que nunca, estará ao nosso alcance na copa de 2014. Nesse mesmo ano, vale lembrar, se cumprirá o centenário da indignada frase de Ruy Barbosa sobre a vergonha de ser honesto. Sim, ele já dizia isso em 1914.
Se fosse viável resgatar o montante da corrupção desde os tempos do bispo Sardinha, o país estaria em condições de garantir um apartamento de dois quartos, com chuveiro quente, a cada um de seus cidadãos. Do Oiapoque ao Chuí. Na Praça Dom José Gaspar, não haveria ninguém de noite, a não ser Chopin. Agora entendo o que ouvi, por acaso, ao passar por lá de manhã.
quinta-feira, 22 de setembro de 2011
A PÁTRIA EM PEDAIS
Domingo ensolarado. A magrela que alugo no metrô Anhagabaú dá de dez nas tranqueiras que já me empurraram nos parques. Limpa, novinha, regulada e com enxoval completo: cadeado e capacete. Tem três marchas. Ótimo. Não preciso de quinze. Não vou sair de São Paulo.
David Byrne leva sua bicicleta dobrável na mala quando sai para tocar pelo mundo. Ele acha as formidáveis ciclovias de Berlim menos instigantes do que o trânsito caótico de Istambul. Penso então: vai ver, o Anhagabaú tem algo do Bósforo e nunca me disseram nada.
No Mercadão, permitem-me entrar empurrando a bicicleta. Esse veículo feito de peças finas e estruturas vazadas é algo genial. Mais leve que o corpo do condutor, a bicicleta é silenciosa e essencial como uma fruta. Vejo pilhas de jabuticabas viçosas: primavera.
O único drama do ciclista é quando ele vê o chão dobrar-se à sua frente. Após três horas de vadiagem em pedais, chego ao sopé da Ladeira Porto Geral, suplício de quem faz compras na Vinte e Cinco de Março. Sonho com uma bicicleta dobrável. Mas de dobrável mesmo, nessa hora, só tenho o boné.
sábado, 20 de agosto de 2011
DA ARTE DE ENTREGAR A RAPADURA
Em sua última entrevista, quatro horas antes de ser assassinado, John Lennon falou de forma auspiciosa sobre o que chamou de feminização da sociedade. Talvez não tivesse sido tão otimista se vivesse para ver a Inglaterra sob o tacão de Margaret Thatcher.
Mas Lennon não tem culpa alguma. Naquela época, dezembro de 1980, todos nós víamos na ascensão das mulheres um sopro de vida na agenda do mundo. Na verdade, ainda penso assim. Com reservas. Explico-me. Em apenas três décadas, não ficou claro se as relações de trabalho se tornaram mais saudáveis com a justa proporção de mulheres.
Nas redações onde trabalhei, no passado, conheci ambientes femininos tão ácidos e belicosos quanto pode ser, por exemplo, um terreiro de briga de galos. Se os tomasse como referência, tenderia a pensar que a feminização da sociedade seria, quando muito, trocar seis por meia dúzia. Mas prefiro não pensar besteiras.
Ontem visitei uma grande empresa jornalística. Soube, com satisfação, que tanto nas redações quanto na cúpula a maior parte dos cargos decisórios é hoje ocupada por mulheres. Foi uma surpresa, mas não deveria ter sido. Há tempos percebo em minhas turmas da faculdade uma declinante proporção de rapazes. Já nem chega a 20%. Acho que o jornalismo se tornará uma profissão feminina, como no passado era a enfermagem.
Permitam-me expor minha tese de fundo de quintal. Lembremos que, desde o tempo das cavernas, as mulheres é que ensinavam aos filhos tudo o que eles precisavam saber, à exceção da caça. Pois bem, como no mundo moderno a educação tornou-se função da mídia, elas invadem esse território para resgatar o que sempre lhes pertenceu ao longo da história.
Em outras palavras, os usurpadores fomos nós, não elas. Assim sendo, acho melhor entregar a rapadura. Que elas sejam felizes e não se estressem muito. Não se estressarão: as mulheres sabem cuidar da sala de visitas. Quanto a nós, bem, vamos todos para o fundo do quintal. Ótimo lugar para se viver a vida. Elas mal sabem o que estão perdendo.
Mas Lennon não tem culpa alguma. Naquela época, dezembro de 1980, todos nós víamos na ascensão das mulheres um sopro de vida na agenda do mundo. Na verdade, ainda penso assim. Com reservas. Explico-me. Em apenas três décadas, não ficou claro se as relações de trabalho se tornaram mais saudáveis com a justa proporção de mulheres.
Nas redações onde trabalhei, no passado, conheci ambientes femininos tão ácidos e belicosos quanto pode ser, por exemplo, um terreiro de briga de galos. Se os tomasse como referência, tenderia a pensar que a feminização da sociedade seria, quando muito, trocar seis por meia dúzia. Mas prefiro não pensar besteiras.
Ontem visitei uma grande empresa jornalística. Soube, com satisfação, que tanto nas redações quanto na cúpula a maior parte dos cargos decisórios é hoje ocupada por mulheres. Foi uma surpresa, mas não deveria ter sido. Há tempos percebo em minhas turmas da faculdade uma declinante proporção de rapazes. Já nem chega a 20%. Acho que o jornalismo se tornará uma profissão feminina, como no passado era a enfermagem.
Permitam-me expor minha tese de fundo de quintal. Lembremos que, desde o tempo das cavernas, as mulheres é que ensinavam aos filhos tudo o que eles precisavam saber, à exceção da caça. Pois bem, como no mundo moderno a educação tornou-se função da mídia, elas invadem esse território para resgatar o que sempre lhes pertenceu ao longo da história.
Em outras palavras, os usurpadores fomos nós, não elas. Assim sendo, acho melhor entregar a rapadura. Que elas sejam felizes e não se estressem muito. Não se estressarão: as mulheres sabem cuidar da sala de visitas. Quanto a nós, bem, vamos todos para o fundo do quintal. Ótimo lugar para se viver a vida. Elas mal sabem o que estão perdendo.
quarta-feira, 13 de julho de 2011
NOSSA MURALHA DA CHINA
 Vou para seis anos sem carro. Minha vida melhorou muito, mas não tenho a ilusão de dar mais do que uma contribuição ínfima, simbólica, para arrefecer esse caldeirão do inferno que é o trânsito de São Paulo. Fora isso, só posso oferecer algum palpite pé-quebrado na área do urbanismo ficcional, categoria talvez cabível na próxima Flip, considerando que o homenageado será um fazendeiro do ar.
Vou para seis anos sem carro. Minha vida melhorou muito, mas não tenho a ilusão de dar mais do que uma contribuição ínfima, simbólica, para arrefecer esse caldeirão do inferno que é o trânsito de São Paulo. Fora isso, só posso oferecer algum palpite pé-quebrado na área do urbanismo ficcional, categoria talvez cabível na próxima Flip, considerando que o homenageado será um fazendeiro do ar.Domingo passado, em Paraty, saí otimista de uma mesa intitulada Tour dos Trópicos. O tema era urbanismo sustentável. O músico escocês David Byrne, ex-líder do Talking Heads e autor de Diários de bicicleta, exaltou sua experiência de ciclista em Nova York e outras cidades do mundo. Mas quem arrebatou a plateia, com um discurso sereno, consistente, realista, foi o engenheiro e sociólogo Eduardo A. Vasconcellos, especialista em transporte urbano.
Segundo ele, apenas 15% da frota de 4 milhões de veículos da cidade de São Paulo (600 mil) bastam para criar o caos que conhecemos bem. (O dobro, imagino, seria um tsunâmi como o que estourou os reatores de Fukushima). Se a situação é crítica, Vasconcelos considera possível, como diz, virar o jogo no segundo tempo. Isto porque, pela primeira vez, as classes média e alta de São Paulo estariam se mostrando dispostas a encarar um assunto que até ontem era um tabu: abrir mão do carro.
Voltei de Paraty pensando em urbanismo, não em literatura. Ou seria ainda ficção supor que, em vez de demolir (como se pretende, a um custo astronômico) uma via elevada de 3,4 quilômetros de extensão, o medonho "Minhocão", cujo nome oficial, aliás, desde 1971 homenageia um dos próceres da ditadura militar, melhor seria transformá-lo num parque suspenso com uma ciclovia e talvez até um aerotrem?
Um projeto desses, em São Paulo, iria acelerar o processo de revitalização do centro e turbinar o mercado imobiliário. Fora o ganho de visibilidade na época da copa. Com um jardim suspenso, linear, um longo tapete verde sobre uma espécie de minimuralha da China, a cidade surpreenderia o mundo ao tirar da cartola uma solução mais ecológica e inventiva do que essa obviedade de construir estádios. Isso, sim, a meu ver, seria virar o jogo no segundo tempo.
quinta-feira, 23 de junho de 2011
PROFANO E SAGRADO
Vínhamos pela Sete de Abril, a pé. O centro da cidade estava quase deserto naquela manhã ensolarada de domingo. Perto da entrada da Galeria Ipê, passamos a ouvir um intrigante rumor de fricção. Vinha de baixo, como uma chuva invertida. Algum insondável processo tectônico devia estar crepitando no chão de São Paulo. Muito estranho, de fato. O rumor se avolumava a cada minuto. Agora já fazia pensar em algo como uma avalanche de cascalho.
Na Xavier de Toledo, deparamos com uma torrente de esqueitistas que desciam a rua em direção ao Teatro Municipal. Milhares. Eu não saberia dizer quantos. Não paravam de passar. Notei raras meninas numa horda de marmanjos rodantes, felizes. No meio dos esqueites, receosas viaturas policiais trinavam as sirenes para não serem levadas de roldão. Alguns esqueitistas faziam piruetas. Outros fotografavam ou filmavam a própria marcha, caudalosa e incessante como um rio amazônico.
Os esqueitistas cercaram o teatro recém-reaberto,empoleiraram-se na escadaria e passaram a gritar palavras de ordem. Não entendi o que diziam. Mas dava para sacar que o clima era menos de manifestação do que de festa. Muita gente assomou às janelas e terraços do teatro para ver a balbúrdia na escadaria. Algum concerto deve ter sido interrompido.
Essa sem-cerimônia dos esqueitistas, ao cercar o Municipal, recordou-me que em Roma, de Fellini, um raide noturno de motociclistas toma de assalto as ruas do centro histórico da cidade. Luz e sombra. O efêmero em contraste com o eterno. Fellini em seus grandes momentos.
Mas voltemos a São Paulo. Nesta época do ano, no início da tarde, fachos amarelados atravessam os vitrais da face oeste do Mosteiro de São Bento, criando hipnóticos efeitos de chiaroscuro no interior da nave. Há quatrocentos anos, Caravaggio teria usado esses nichos iluminados, que sobressaem na penumbra do recinto, para pintar seus semblantes patéticos. Mas o que temos ali, hoje, é um homem que, não satisfeito em curtir o clima sacro que o cerca, tenta apreendê-lo com a câmara do celular. Eleva o aparelho bem acima da cabeça, com as duas mãos, numa pose reverenciosa e idêntica à do padre que exibe o cálice aos fiéis.
No imundo e aristocrático centro de São Paulo, o profano e o sagrado dançam de rostinho colado. Em benefício de ambos, espero.
Na Xavier de Toledo, deparamos com uma torrente de esqueitistas que desciam a rua em direção ao Teatro Municipal. Milhares. Eu não saberia dizer quantos. Não paravam de passar. Notei raras meninas numa horda de marmanjos rodantes, felizes. No meio dos esqueites, receosas viaturas policiais trinavam as sirenes para não serem levadas de roldão. Alguns esqueitistas faziam piruetas. Outros fotografavam ou filmavam a própria marcha, caudalosa e incessante como um rio amazônico.
Os esqueitistas cercaram o teatro recém-reaberto,empoleiraram-se na escadaria e passaram a gritar palavras de ordem. Não entendi o que diziam. Mas dava para sacar que o clima era menos de manifestação do que de festa. Muita gente assomou às janelas e terraços do teatro para ver a balbúrdia na escadaria. Algum concerto deve ter sido interrompido.
Essa sem-cerimônia dos esqueitistas, ao cercar o Municipal, recordou-me que em Roma, de Fellini, um raide noturno de motociclistas toma de assalto as ruas do centro histórico da cidade. Luz e sombra. O efêmero em contraste com o eterno. Fellini em seus grandes momentos.
Mas voltemos a São Paulo. Nesta época do ano, no início da tarde, fachos amarelados atravessam os vitrais da face oeste do Mosteiro de São Bento, criando hipnóticos efeitos de chiaroscuro no interior da nave. Há quatrocentos anos, Caravaggio teria usado esses nichos iluminados, que sobressaem na penumbra do recinto, para pintar seus semblantes patéticos. Mas o que temos ali, hoje, é um homem que, não satisfeito em curtir o clima sacro que o cerca, tenta apreendê-lo com a câmara do celular. Eleva o aparelho bem acima da cabeça, com as duas mãos, numa pose reverenciosa e idêntica à do padre que exibe o cálice aos fiéis.
No imundo e aristocrático centro de São Paulo, o profano e o sagrado dançam de rostinho colado. Em benefício de ambos, espero.
sábado, 21 de maio de 2011
UM AMIGO EM SOSTENUTO
A boa inveja, como o bom colesterol, não tem caráter destrutivo. O invejoso torce pelo invejado. Não sonha puxar-lhe o tapete, mas estar à altura de uma parceria.
Sempre tive essa (espero) boa inveja de Gil Reyes, multi-instrumentista catalão-paulistano hoje com 61 anos. Conhecemo-nos há quase 40, na revisão da Editora Abril, onde todos admirávamos seu talento musical. Gil deu aulas de flauta e violão para alguns colegas, inclusive para mim. Minha contribuição à música foi desistir a tempo. Tenho a consciência tranquila.
Porém o que não conseguimos ser persiste no que somos. Muitos escritores destilam paixões osmóticas pela música, que é pura forma. Luiz Antonio de Assis Brasil, ex-violoncelista da Sinfônica de Porto Alegre, executa com maestria sua obra literária. Julio Cortázar eternizou o jazzista Charlie Parker na novela O perseguidor. Tentei algo semelhante em relação a Astor Piazzolla, ao escrever Che Bandoneón. Devo ter ficado umas duas ou três oitavas abaixo de Cortázar.
Os anos passam. Na mocidade cultivei a delirante ideia de reproduzir nos textos a poética de Piazzolla. Depois quis obter dentro do parágrafo, com um jogo de palavras, dissonâncias sutis como as dos acordes de Bill Evans. A rigor, isso é impossível: a música tem uma sintaxe, não uma semântica.
No entanto, um delírio pode ser factível de modo indireto. Quando a mãe diz ao bebê umas frases que só fazem sentido aos seus próprios ouvidos, ao pronunciá-las assume gestos e expressões que sinalizam algo ao receptor. Ou seja, ela acaba por realizar a intenção inicial. Algo desse tipo ocorre quando criamos textos a partir de ideias musicais.
Não lamento as tolices que digo aqui. Gosto do meu ofício. Só que teria preferido dizer tudo isto ao teclado do piano. Como consolo, resta-me ir ver o amigo Gil Reyes tocar no mezanino do Bar Piratininga, na Vila Madalena. Observo como viaja longe durante os improvisos. Ele e os outros dois: o contrabaixista Zeli Silva e o saxofonista Carlos Alberto Alcântara, lépido e radiante aos 76 anos. Certo tipo de felicidade só pertence aos músicos. Ainda bem que existe a boa inveja. Esta, pelo menos, dá para confessar.
Sempre tive essa (espero) boa inveja de Gil Reyes, multi-instrumentista catalão-paulistano hoje com 61 anos. Conhecemo-nos há quase 40, na revisão da Editora Abril, onde todos admirávamos seu talento musical. Gil deu aulas de flauta e violão para alguns colegas, inclusive para mim. Minha contribuição à música foi desistir a tempo. Tenho a consciência tranquila.
Porém o que não conseguimos ser persiste no que somos. Muitos escritores destilam paixões osmóticas pela música, que é pura forma. Luiz Antonio de Assis Brasil, ex-violoncelista da Sinfônica de Porto Alegre, executa com maestria sua obra literária. Julio Cortázar eternizou o jazzista Charlie Parker na novela O perseguidor. Tentei algo semelhante em relação a Astor Piazzolla, ao escrever Che Bandoneón. Devo ter ficado umas duas ou três oitavas abaixo de Cortázar.
Os anos passam. Na mocidade cultivei a delirante ideia de reproduzir nos textos a poética de Piazzolla. Depois quis obter dentro do parágrafo, com um jogo de palavras, dissonâncias sutis como as dos acordes de Bill Evans. A rigor, isso é impossível: a música tem uma sintaxe, não uma semântica.
No entanto, um delírio pode ser factível de modo indireto. Quando a mãe diz ao bebê umas frases que só fazem sentido aos seus próprios ouvidos, ao pronunciá-las assume gestos e expressões que sinalizam algo ao receptor. Ou seja, ela acaba por realizar a intenção inicial. Algo desse tipo ocorre quando criamos textos a partir de ideias musicais.
Não lamento as tolices que digo aqui. Gosto do meu ofício. Só que teria preferido dizer tudo isto ao teclado do piano. Como consolo, resta-me ir ver o amigo Gil Reyes tocar no mezanino do Bar Piratininga, na Vila Madalena. Observo como viaja longe durante os improvisos. Ele e os outros dois: o contrabaixista Zeli Silva e o saxofonista Carlos Alberto Alcântara, lépido e radiante aos 76 anos. Certo tipo de felicidade só pertence aos músicos. Ainda bem que existe a boa inveja. Esta, pelo menos, dá para confessar.
quinta-feira, 14 de abril de 2011
DEPOIS DO CHORO
Quem não teme os aspectos sombrios das relações humanas encontra bom tema para reflexão no documentário A morte inventada, de Alan Minas. O diretor do filme fisgou um peixe gordo. O assunto tratado, alienação parental, deve expandir-se no futuro próximo. Vai ao encontro de valores contemporâneos como a transparência e o direito à memória.
A alienação parental ocorre quando a mãe difama o ex-cônjuge perante um filho ou cerceia o contato entre eles. O alienador pode ser um homem, claro, mas isso é pouco comum na vida real. A mulher, que em geral tem a guarda dos filhos, desfruta de situação propícia para lhes incutir as chamadas falsas memórias.
Em A morte inventada, filhos e pais aviltados dão depoimentos pungentes sobre como enfrentaram o trauma. Psicólogos alertam para danos emocionais aos filhos quando se desqualifica ou se isola a figura paterna. Magistrados analisam a questão pelo lado da prática judicial. Para eles, é uma batata quente.
Mesmo um juiz cauteloso tende a cumprir essa lei não escrita que pulsa em algum ponto do inconsciente coletivo: in dubio pro mater. A maternidade é um totem de raízes fortes. Nelas se entrelaçam, curiosamente, o cristianismo e o feminismo. In dubio, não cutucar duas onças com a mesma vara.
A alienação parental corresponde à prática o bullying no espaço público das escolas. Só que dentro da célula familiar. E não é fácil enxergar dentro dela. Para um juiz, deve ser menos trabalhoso (e conflituoso) decidir questões prosaicas como valores de pensão, por exemplo, do que lidar com um caso de alienação parental. Aqui, não há sequer a ilusão superficial dos números. Apenas marcas profundas.
A alienação parental, que resulta de uma engenharia perversa, porém sutil, pode ocorrer até dentro do casamento. Às vezes, dispensa palavras. Stevenson reflete: "As mais cruéis mentiras costumam ser pregadas em silêncio". Cortázar ironiza: "As mulheres desidratadas são terríveis", referindo-se ao que algumas são capazes de fazer depois de chorar.
A alienação parental ocorre quando a mãe difama o ex-cônjuge perante um filho ou cerceia o contato entre eles. O alienador pode ser um homem, claro, mas isso é pouco comum na vida real. A mulher, que em geral tem a guarda dos filhos, desfruta de situação propícia para lhes incutir as chamadas falsas memórias.
Em A morte inventada, filhos e pais aviltados dão depoimentos pungentes sobre como enfrentaram o trauma. Psicólogos alertam para danos emocionais aos filhos quando se desqualifica ou se isola a figura paterna. Magistrados analisam a questão pelo lado da prática judicial. Para eles, é uma batata quente.
Mesmo um juiz cauteloso tende a cumprir essa lei não escrita que pulsa em algum ponto do inconsciente coletivo: in dubio pro mater. A maternidade é um totem de raízes fortes. Nelas se entrelaçam, curiosamente, o cristianismo e o feminismo. In dubio, não cutucar duas onças com a mesma vara.
A alienação parental corresponde à prática o bullying no espaço público das escolas. Só que dentro da célula familiar. E não é fácil enxergar dentro dela. Para um juiz, deve ser menos trabalhoso (e conflituoso) decidir questões prosaicas como valores de pensão, por exemplo, do que lidar com um caso de alienação parental. Aqui, não há sequer a ilusão superficial dos números. Apenas marcas profundas.
A alienação parental, que resulta de uma engenharia perversa, porém sutil, pode ocorrer até dentro do casamento. Às vezes, dispensa palavras. Stevenson reflete: "As mais cruéis mentiras costumam ser pregadas em silêncio". Cortázar ironiza: "As mulheres desidratadas são terríveis", referindo-se ao que algumas são capazes de fazer depois de chorar.
sábado, 12 de março de 2011
O LIVRO, OBSOLETO E ETERNO
 Tenho a impressão de que no Brasil há mais escritores do que leitores. Isto, claro, se nos permitirmos considerar escritores todos os que escrevem livros, e não apenas os que vivem disso.
Tenho a impressão de que no Brasil há mais escritores do que leitores. Isto, claro, se nos permitirmos considerar escritores todos os que escrevem livros, e não apenas os que vivem disso.O fato de que se leia cada vez menos livros é não só evidente, como inelutável. Esses jovens irrequietos estão em outra. E para seus filhos o livro será tão anacrônico quanto a ampulheta.
Mas o livro não vai desaparecer. O selo não desapareceu. Nem a garrafa. Ambos têm, como o livro, sucedâneos mais cômodos, baratos e eficientes. Espero que ninguém tenha pensado em jantar à luz de velas com vinho em embalagem Tetra Pak. Tirar a rolha é como virar as páginas. Temos nossos rituais.
Ao longo dos séculos, os livros acumularam um valor arquetípico que não pode, em décadas, ser suplantado por tecnologias autofágicas que passam como chuvas de verão. Eles vão desaparecer do cotidiano, como os selos, como o vinho, mas não da vida. Um objeto de papel, com coisas escritas dentro, tem mais presença que um texto na tela, tão volátil como este aqui. Tememos a finitude.
Sim, há um fator psíquico. O ato solitário de escrever um livro propicia (e de graça!) a qualquer um, amador ou profissional, uma ilusória impressão de permanência e até de eternidade, para os mais ambiciosos. Justamente o que falta nessa pletora de artefatos digitais que vemos à nossa volta. Escrevemos um livro e parece que aquilo vai durar mais que nós. Sabemos que não vai, mas parece.
Seria exagero dizer que a força dos livros esteja na sua obsolescência. Exagero, mas não absurdo. Isto porque seu capital simbólico lhes permite até prescindir de leitores, pelo menos a médio prazo. Por isso, acredito, vão sobreviver. Não havendo quem os leia, haverá quem os escreva.
domingo, 13 de fevereiro de 2011
QUE NO SE VEA LA SANGRE
"Carne es muerte", picharam na Estátua da Liberdade, centro de Montevidéu. Ela fica na Plaza de Cagancha, quilômetro zero das estradas nacionais uruguaias. Antes partiam dali os ônibus da empresa ONDA, que exibiam na carroceria a imagem alongada e ágil de um galgo.
Hoje, em Montevidéu, os ônibus rodoviários partem do Terminal Tres Cruces. No restaurante do primeiro andar, um homem assa as carnes com altivez. Ele as faz rolar sobre a grelha, pincelando o molho, espetando uma ou outra peça com seu garfo longo e medieval. Domina o braseiro com um desprezo reverente. Nem olha para os próprios gestos, como o maestro não olha para a batuta. O cara da parrilla sabe que é o homem mais importante no restaurante. Todo mundo sabe. Cada uruguaio consome em média 58,2 kg de carne ao ano, liderando um ranking mundial que durante décadas teve os argentinos no topo.
Ser vegetariano no Uruguai é algo mais ousado do que ser tupamaro nos anos 70. Os guerrilheiros, pelo menos, tinham alguma chance. Basta lembrar que o atual presidente Pepe Mujica foi um dos 111 presos que fugiram espetacularmente do presídio de Punta Carretas, em 1971. Ora, direis, era o destino dele. Mas o destino jamais levaria à presidência do Brasil algum dos também 111 presos executados em 1992 no presídio do Carandiru, em São Paulo, mesmo que conseguisse escapar. Mas aí já são outros quinhentos. Outros 111, pelo menos. Voltemos a Montevidéu. No restaurante do terminal Tres Cruces, uma senhora interiorana senta-se à mesa ao lado. Ouço-a dizer ao garçom como deseja seu bife de chorizo:
> No pasado, pero tampoco que se vea la sangre.
Isso é comida ou política? Jamais saberei. Vejo o garçom se afastar e depois transmitir o pedido, com humildade, ao sujeito diante do braseiro. O assador tem consciência de ser o homem mais importante não apenas no restaurante, mas no país inteiro. O cara da parrilla, penso comigo, é o verdadeiro presidente do Uruguai. Desde sempre. Desde antes de construírem a Estátua da Liberdade, na Plaza de Cagancha, em 1863. E desde muito antes de algum solitário pichón ter pichado o pedestal. Que no se vea la sangre.
segunda-feira, 10 de janeiro de 2011
OS LUMINOSOS DE SÃO PAULO
Visitei São Paulo pela primeira vez quando ainda usava suspensórios. Os luminosos me agradaram tanto ou mais que as escadas rolantes. Na hora em que aquilo se acendia, à noite, uma cidade de néon surgia acima de todos os mortais. Alguns painéis piscavam, outros mudavam de cor, outros se reconfiguravam ao longo de diversas fases. Os luminosos conversavam entre si em seu idioma secreto.
Na Nove de Julho, um outdoor ostentava, incrustada, a metade de um caminhão de verdade. Parecia suspenso por um guindaste invisível, a uns vinte metros do chão, e basculava a caçamba sob uma luz teatral. Lá naquelas alturas, o caminhão ganhava status de astronave. Podia ser um prenúncio de Fellini. Mas como sabê-lo, com tanto Gumex no cabelo?
Na São Luís, diante do antigo prédio do Estadão, vi as notícias deslizarem na esteira luminosa que conferia à fachada um certo aspecto natalino. As frases, fugazes como legendas de cinema, eram logo tragadas pela escuridão. Tive a vertigem da notícia em tempo real, como na internet. Cogitei ser jornalista. Não que me interessassem os acidentes ou as trocas de ministros. Interessava-me o painel luminoso em si. Só agora escrevo sobre ele, meio século depois.
Na São João, deparei com o luminoso mais emocionante de todos, o do falecido uísque nacional King's Archer. O arqueiro disparava uma flecha que ia mudando de cor em direção à borda do painel. Durante décadas não me lembrei dessa imagem remota. O luminoso do arqueiro só reacendeu na minha memória com uma metáfora de Schopenhauer que considero perfeita: ter talento é acertar um alvo que ninguém acertou; ser gênio é acertar um alvo que ninguém viu. Exatamente o que eu presenciara, no inverno de 1960, no topo daquele prédio. A flecha viajava na escuridão e, de repente, batia na garrafa, que acendia como num passe de mágica.
Assinar:
Postagens (Atom)